“Não há nenhum livro de regras. Não há nenhuma escala de tempo. O luto é tão individual como uma impressão digital. Faça o que é melhor para a sua alma” (W Larcombe & Son)
Eu tenho a honra de ser tutora do módulo sobre Luto do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Cuidados Paliativos da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais coordenado pelas Profas. Gláucia Tavares e Marília Aguiar. Tem sido uma experiência muito valiosa e enriquecedora. Na unidade 2 foi solicitado aos alunos que discorressem sobre uma das teorias que permeiam um processo de luto: a Teoria da Transição Psicossocial. Essa teoria foi proposta por Colin Murray Parkes, psiquiatra britânico, que compreende luto como uma importante transição psicossocial decorrente das transformações no mundo interno que necessariamente ocorrem a partir da vivência de um processo de luto. A partir dessa transformação o enlutado passa a assumir novos papéis e uma nova visão de si e do mundo externo, buscando novas soluções para os problemas da vida cotidiana.
As alunas Andrea Coelho, Camila Bethânia, Joana Cés, Kátia Poles, Liliana Lapequino e Maria Letícia produziram um texto muito interessante abarcando a temática dessa teoria. Abaixo compartilharei, com a devida autorização das autoras, o escrito delas para compreendermos um pouco mais sobre esse complexo processo, o luto.
“Teoria da Transição Psicossocial”
Texto escrito por: Alunas turma 3 – FCMMG
“Diante do diagnóstico de uma doença grave, tanto paciente quanto familiares se deparam com a ameaça de continuidade da vida, trazendo impactos de diversos aspectos a cada um dos personagens envolvidos. As alterações podem ser percebidas no âmbito físico, social, amoroso, financeiro, profissional, espiritual e emocional, vivido por cada sujeito de forma única. No adoecimento o indivíduo necessitará se reorganizar e a ressignificação e compreensão destas mudanças se darão por meio de um processo de luto antecipatório, que pode iniciar no diagnóstico e/ou durante o curso da doença (Serem; Tilio, 2014).
Sabemos que o luto pode se dar de inúmeras formas e é um processo que se constitui por meio da perda de algo ou alguém significativo. O processo de luto pela morte de alguém significativo é uma experiência humana universal, única e dolorosa. A experiência emocional de enfrentamento da perda é denominada pela elaboração do luto, conduzindo a uma necessidade de adaptação à nova situação (Barreto; Soler&Yi, 2008).
De acordo com Worden (1998), o luto pode ser definido como um “tempo necessário para que o enlutado retorne a um estado similar de equilíbrio”. Neste sentido, o luto deve ser compreendido como um processo e não um estado. Não é um conjunto de sintomas que tem início depois de uma perda e gradualmente se desvanece. O luto é um processo extremamente individual, que depende do repertório de cada um para lidar com perdas. Por outro lado, as pessoas enlutadas têm muito em comum, o que nos leva a ver o luto como um todo e a mapear o curso de acontecimentos que caracteristicamente o acompanha.
Bromberg (2000), aponta o luto como um conjunto de reações a uma perda significativa e pontua que nenhum é igual ao outro, pois não existem relações significativas idênticas. Worden (1998), lista categorias no processo de luto normal, dividindo-as em:
• Sentimentos: tristeza, raiva, culpa, ansiedade, solidão, fadiga, desamparo, choque, anseio, emancipação, alívio e estarrecimento;
• Sensações físicas: vazio no estômago, aperto no peito, nó na garganta, hipersensibilidade ao barulho, sensação de despersonalização, falta de ar (respiração curta), fraqueza muscular, falta de energia e boca seca;
• Cognições: descrença, confusão, preocupação, sensação de presença e alucinações;
• Comportamentos: distúrbios de sono, distúrbios do apetite, comportamento aéreo, isolamento social, sonhos com a pessoa que morreu, evitar lembranças do falecido, procurar e chamar pela pessoa, suspiros, hiperatividade, choro, visitar lugares e carregar objetos que lembrem o falecido.
Existem algumas variáveis que podem agir como facilitadores ou afetar adversamente no processo de luto. Franco (2008), descreve fatores que podem interferir significativamente no processo de morte e luto:
• Natureza e significados relacionados com a perda;
• Qualidade da relação que se finda;
• Papel que a pessoa à morte ocupa no sistema familiar/social;
• Recursos de enfrentamento do enlutado;
• Experiências prévias com morte e perda;
• Fundamentos culturais e religiosos do enlutado;
• Idade do enlutado e da pessoa à morte;
• Questões não resolvidas entre a pessoa à morte e o enlutado;
• Percepção individual sobre o quanto foi realizado em vida;
• Perdas secundárias, circunstâncias da terminalidade.
O processo de aperceber-se, isto é, a maneira pela qual o enlutado se move da negação e evitação do reconhecimento da perda para a compreensão de um novo modelo de mundo, pode ser prejudicado pelo desamparo e desesperança, que caracterizam a depressão.
Parkes (1996), descreve que a sensação de deslocamento entre o mundo que é, e o mundo que deveria ser, frequentemente se expressa como uma sensação de mutilação ou vazio, e reflete a necessidade de o indivíduo reaprender seu modelo interno de mundo. O mundo que era conhecido e previsível, preservando uma sensação de segurança foi chamado por Parkes (2009), de mundo presumido e, diante da ameaça ou da perda, torna-se desconhecido e ameaçador. Segundo o mesmo autor, quando o mundo presumido é prejudicado pelo rompimento de um vínculo significativo, ocorrem mudanças em diversos aspectos da vida, fazendo com que o indivíduo enlutado tenha que se adaptar a uma nova forma de se encontrar no mundo, sem ser da forma como imagina e deseja. O mundo presumido é um constructo interno, tornando a experiência da perda muito singular a cada sujeito, implicando na revisão de conceitos, na ressignificação da própria vida e da relação com a pessoa perdida, o que ocorrerá durante um período duradouro e indeterminado. Parkes (2009), considera que algumas coisas fazem parte do nosso mundo presumido, a saber:
Ele entende que nosso mundo presumido é constituído por nossas concepções sobre o mundo, sobre nós mesmos e nossas figuras de cuidado; incluindo a maneira como lidamos com as percepções de perigo e proteção, atribuindo significados a partir da forma como vivenciamos estas relações. Compondo uma parte valiosa do nosso equipamento mental que, quando abalado, nos desestrutura; mas é potencialmente dinâmico e passível de modificações a partir de novas experiências.
Ainda citando Parkes (1996), um processo de luto será permeado por várias mudanças de hábitos e pensamentos que foram construídos ao longo de muitos anos e que a partir de uma perda precisará serem revistos e/ou modificados, a visão do mundo da pessoa mudará. Essas mudanças inevitavelmente consumirão tempo e esforço. Parkes propôs que esse conjunto de mudanças fosse denominado de Teoria da Transição Psicossocial.
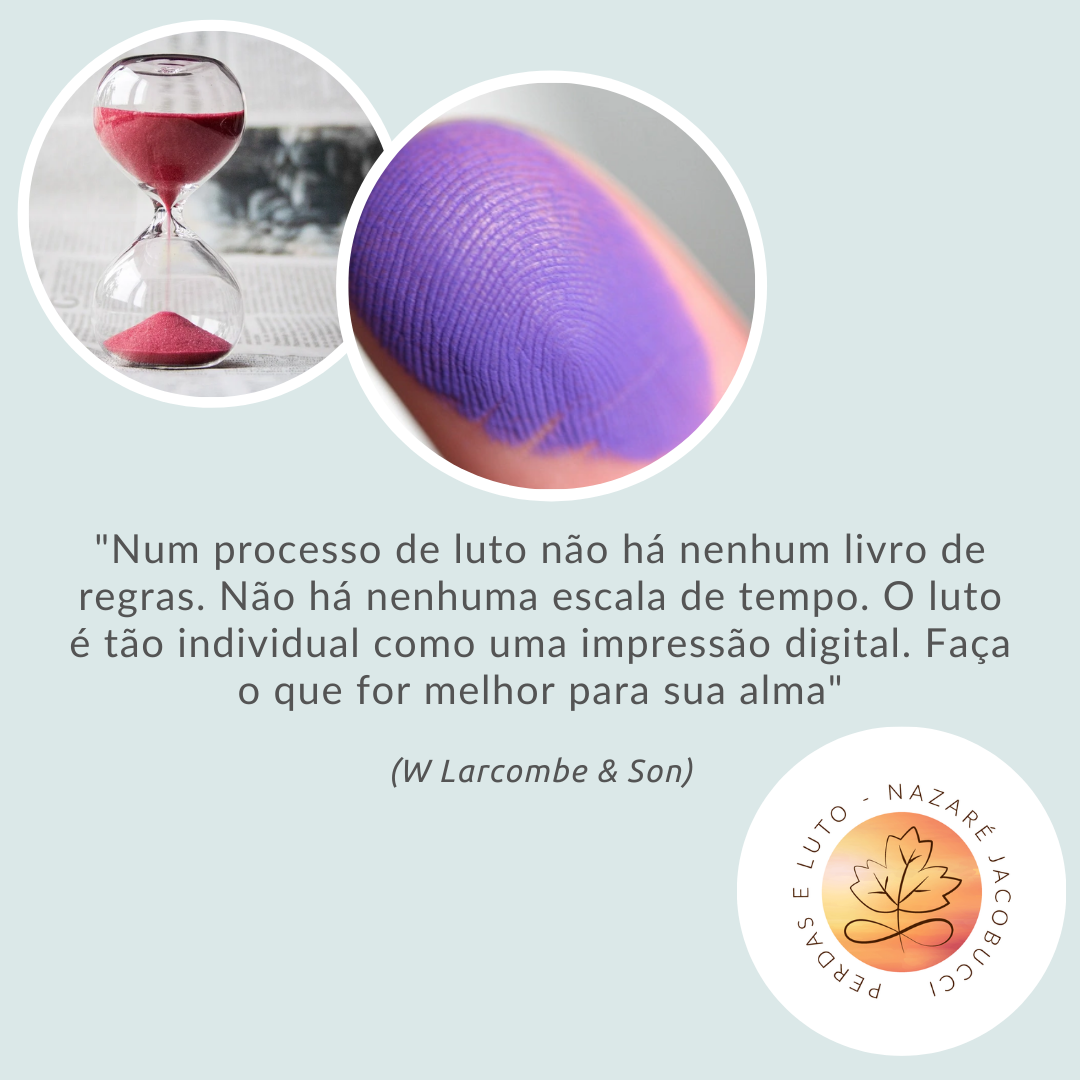
Segundo esta teoria, quando nos deparamos com situações significativas, duradoura ou permanente, súbita ou sem preparação prévia e que geram revisão dos nossos conceitos do mundo entramos no período de transição psicossocial. O indivíduo enlutado vivencia esta transição e, frequentemente, preserva-se socialmente a um pequeno grupo de convívio, preferindo manter-se em ambiente seguro e conhecido. Além disso, pode tornar-se ativista, ocupando o tempo para evitar lidar com o fato ocorrido, ou mesmo negando este fato, mas também pode evitar a consciência de que o mundo presumido interior difere do externo, evitando o pensamento acerca do ocorrido.
Alguns aspectos podem ser percebidos, como o isolamento e a introspecção, fazendo com que as pessoas se fechem em seu mundo, rodeadas daqueles que passam segurança. Outras pessoas podem negar a realidade e evitar situações que confrontem o mundo externo e interno. Desenvolvemos mecanismos de defesa naturais que diminuem a ansiedade, e isto é positivo, mas não deve ser excessivo para não adiar o processo de organização e aprendizagem.
A Transição Psicossocial não se restringe somente ao luto, e ocorre sempre que precisamos fazer mudanças importantes em nossas concepções sobre o mundo. A pessoa que teve uma perna amputada tem de aprender a parar de usar a perna que não está mais lá para poder usar a prótese que será colocada; a pessoa que ficou cega precisa aprender novas formas de perceber o mundo; a pessoa com câncer precisa parar de contar com algumas garantias que sempre teve. Cada uma dessas situações faz com que a pessoa desista de antigos hábitos e desenvolva novos, em seu lugar.
O luto também terá suas peculiaridades marcadas pelo vínculo afetivo entre o enlutado e a pessoa perdida, sendo uma resposta natural diante da perda de uma pessoa amada, ou seja, uma reação esperada após o rompimento de um vínculo com alguém ou algo significativo. O processo de luto é dinâmico, mas não acontece sem dor. É uma resposta esperada ao amor e ao pesar (Parkes, 1998).
Ao pensarmos sobre a influência dos vínculos entre enlutados e a pessoa perdida, nos permitimos refletir sobre como os padrões de apego influenciam o processo de luto.
Bowlby foi pioneiro no estudo do apego, primeiro na observação de animais e mais tarde em experimentos com crianças na clínica de psicanálise em Londres. Ele evidenciou que a ligação mãe-bebê é crucial para o desenvolvimento saudável da criança (Papalia, 2006). A Teoria do Apego traz como foco a necessidade da espécie humana de vincular-se a outro mais forte e mais sábio, além de criar estratégias de busca por sua figura de apego. Diante da perda, apresentará comportamentos de busca por aquele que foi perdido devido ao vínculo previamente existente que lhe proporcionava sensação de segurança.
Vários pesquisadores concordam que os tipos de apego estabelecidos por meio das primeiras relações na infância, refletem durante toda a vida do indivíduo e, quase sempre, ditam a forma com que ele lida com as demandas cotidianas e na vivência das perdas definitivas, como a morte. Muitas vezes, o manejo e enfrentamento de situações com grande carga emocional, como o processo de luto, remetem às vivências de perdas anteriores e ao modo como se estabeleceu o vínculo com o ente perdido.
Para um processo de luto natural é comum e esperado que o enlutado oscile entre a busca por sua figura de apego perdida e a restauração para a vida. A este modelo, deu-se o nome de Modelo de Processo Dual de Luto sugerido por Stroebe e Schut. Quando observamos um enlutado muito voltado para perda, com dificuldades de olhar para a reorganização da vida, pode-se levantar a hipótese de um processo de luto complicado. Já o sujeito que está muito direcionado para a reestruturação da vida e tem dificuldades de olhar para sua perda, sem entrar em contato com o sofrimento, podemos pensar um processo de luto adiado ou inibido. A oscilação entre os movimentos de restauração e da perda é importante para reconstrução de um novo mundo presumido, onde o sujeito se permite ressignificar a relação com a pessoa perdida e vislumbrar a construção de novos planos de vida (Parkes, 2009).
Desta forma podemos inferir que, as transições psicossociais encontradas em um processo de luto, considerando o significado construído e a qualidade do vínculo com a pessoa falecida, variam de pessoa para pessoa. O processo é individual e cada um passa por ele à sua maneira. À medida que uma pessoa se adapta à perda, o sofrimento torna-se mais subjugado e os pensamentos e memórias do falecido se tornam menos dolorosos.
A equipe de saúde deve auxiliar na reconstrução da identidade e da vida do enlutado, ajudando-o no exercício da compreensão de novos papéis. Para isso, é preciso conhecê-lo de maneira ampla, deixando falar sobre a perda, ouvindo e confortando.
No luto, uma das coisas mais importantes que podemos fazer por alguém que sofre uma perda significativa é escutar. Embora acredite-se que escutar alguém seja algo relativamente fácil de fazer, prestar atenção, nesse caso, pode tornar-se muito difícil. Escutar ativamente é uma forma especial de compreensão das ideias e sentimentos que estão sendo expostos. Escutar não só com o ouvido, mas também com o coração, isso faz toda a diferença!”
(Publicado em: Plataforma EDA Moodle da FCMMG em 18.02.18)
Após ler o texto escrito pelas alunas, eu penso o quanto trabalhar com enlutados é uma tarefa de extrema responsabilidade. Precisamos realizar uma minuciosa análise de que maneira aquela pessoa fora afetada por sua perda e quais foram suas perdas secundárias, tanto no campo objetivo, mas principalmente no subjetivo. Esta cuidadosa análise nos auxiliará no manejo mais adequado para cada indivíduo.

Psic. Mestre em Cuidados Paliativos (M.Sc.)
Psic. Especialista em Perdas e Luto
Especialista em Psicologia Hospitalar
Psychotherapist Member of British Psychological Society (GMBPsS)
Blog Perdas e Luto (Instagram)
Livro à Venda – Autora do Livro: Legado Digital: Conhecimento, Decisão e Significado – Viver, Morrer e Enlutar na Era Digital
Colaboração:
Andrea Coelho Vianna – Dentista, voluntária do grupo de apoio ao luto(API-BH)
Camila Bethânia dos Santos Fogaça – Médica, no Hospital Márcio Cunha em Ipatinga- MG (Unidade de Cuidados Paliativos). Especialização em Clínica Médica e pós graduação em Geriatria (FELUMA).
Joana Cés de Souza Dantas – Psicóloga, no Serviço de Hematologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto e colaboradora do Hospital Placi. Psicóloga clínica no Instituto Entrelaços. Especialista em Oncologia pelo INCA.
Kátia Poles – Enfermeira, Especialista em Pediatria e Terapia de Família (UNIFESP), Mestre e Doutora em Enfermagem (USP).
Liliana Lapequino Morais – Médica, Intensivista pediátrica no Hospital Unimed em Vitória/ES.
Maria Letícia Simões – Médica, no Hospital Unimed (Uti pediátrica) de Vitória e trabalha como Neonatologista no Hospital Santa Rita de Cassia (parto humanizado)
Referências:
AZEVEDO, A. K.; PEREIRA, M. A. O luto na clínica psicológica: um olhar fenomenológico. Clínica & Cultura, v. 2, n. 2, p. 54-67, 2013.
BARRETO, P.; YI, P.; SOLER, C. Predictores de duelo complicado. Psicooncología, Norteamérica, 5, dic. 2008. Disponível em: http://revistas.ucm.es/index.php/PSIC/article/view/PSIC0808220383A
BOWLBY, J. Formação e rompimento dos laços afetivos. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
Bromberg, M.H.P.F. A psicoterapia em situações de perdas e luto. Campinas: Editorial Psy, 2000.
CATALDO, A.; MAJOLA, R. R. O luto normal, o luto patológico e o médico. Revista de Medicina da PUCRS, v. 7, n. 1, p. 1-52, 1997.
FRANCO, M. H. P. Luto em cuidados paliativos. In: Cuidado paliativo. São Paulo: CREMESP, 2008.
FRANCO, M. H. P. A teoria do apego e os transtornos mentais do luto não reconhecido. In: CASELLATO, G. (Org). O resgate da empatia: suporte psicológico ao luto não reconhecido. São Paulo: Summus Editorial, 2015.
MARKHAM, U. Luto: esclarecendo suas dúvidas. São Paulo: Ágora, 2000.
MEIRELES, I.O.; LIMA, F.L.C. O luto na fase adulta: um estudo sobre a relação do apego e Perda na teoria de John Bowlby. Revista Ciências Humanas – UNITAU, v. 9, n. 1, p. 92-105; 2016.
PARKES, C. M. Luto: estudos sobre a perda na vida adulta. São Paulo: Summus Editorial, 1998.
PARKES, C. M. Amor e perda: as raízes do luto e suas complicações. São Paulo: Summus Editorial: 2009.
SEREM, R.; TILIO, K. As vivências do luto e seus estágios em pessoas amputadas. Revista da SPAGESP, v.15, n.2, p. 64-78, 2014. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167729702014000100006
WORDEN, J. W. Terapia do luto: um manual para o profissional de saúde mental. Porto Alegre: Artmed, 1998.
Esse site é um dos meus preferidos, só anotando as informações.
CurtirCurtido por 1 pessoa
Parabéns pelo site, muito util.
CurtirCurtido por 1 pessoa
Olá Rosa! Muito obrigada, Abs Nazaré Jacobucci
CurtirCurtido por 1 pessoa